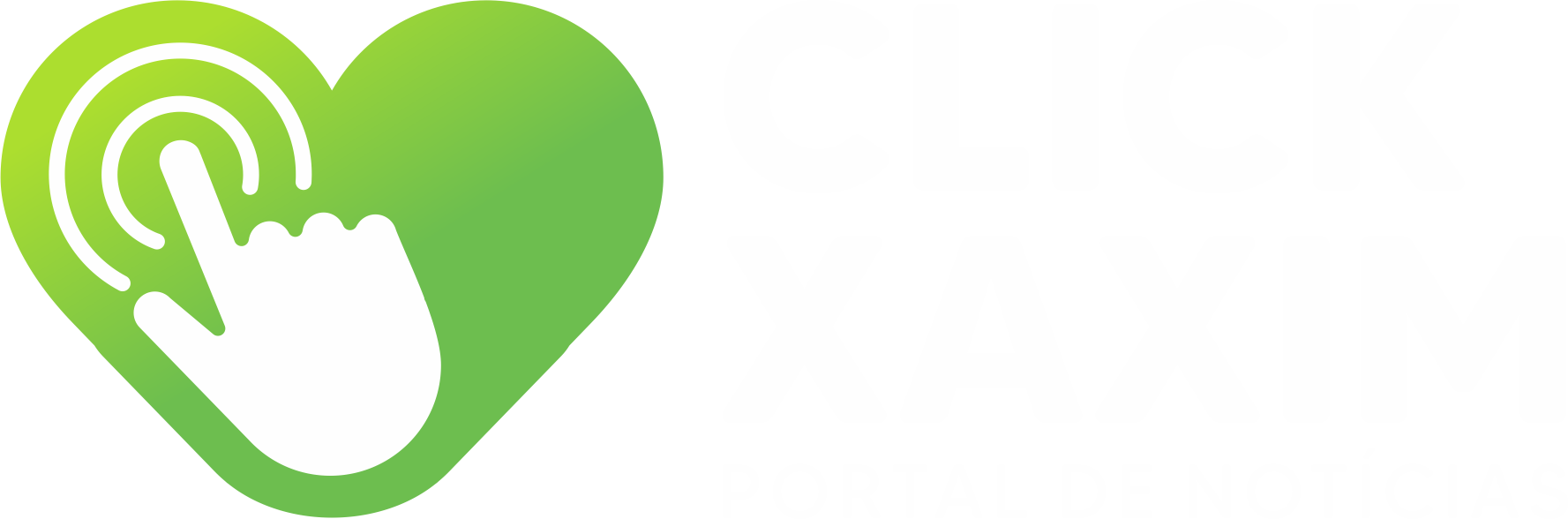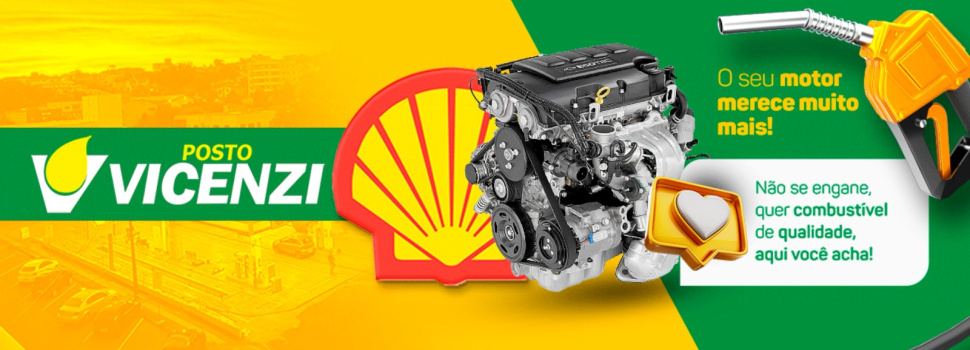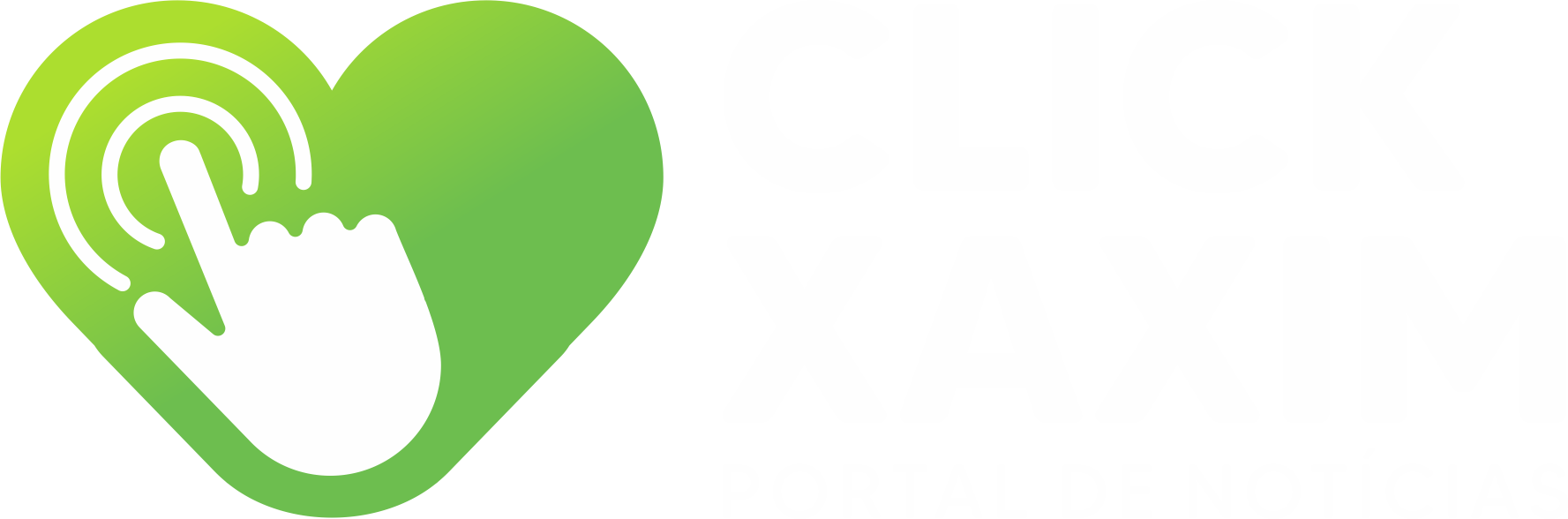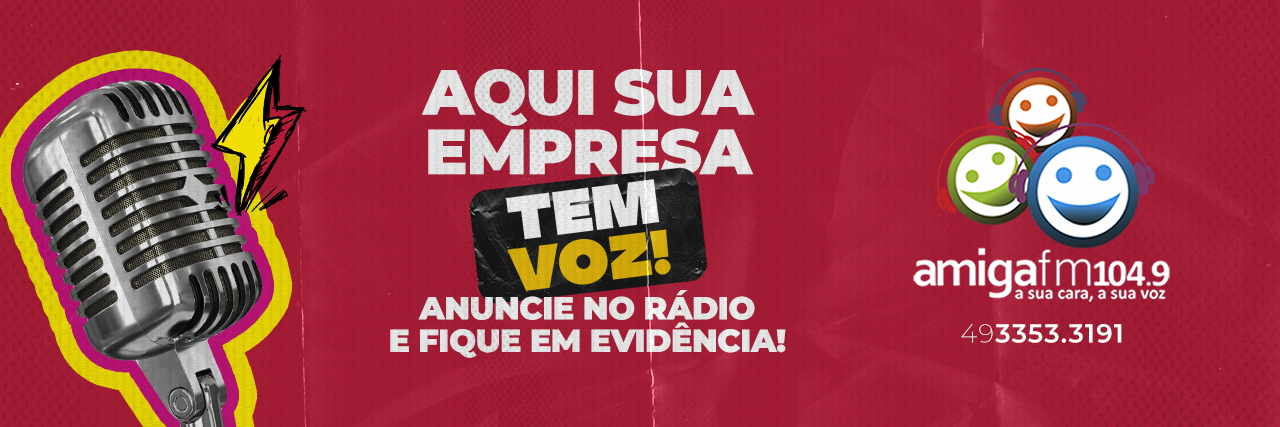Em novembro de 2022, a seleção brasileira enfrentou a Suíça pela Copa do Catar, em jogo que daria a classificação ao Brasil para as oitavas de final do mundial, graças a um gol de Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo.
Enquanto milhões de brasileiros torciam pela seleção no Brasil, algumas dezenas de palestinos se somavam à nossa torcida, diretamente da Faixa de Gaza.
Eram os moradores do bairro Brasil, localizado ao sul da cidade de Rafah, quase na fronteira com o Egito.
“A fumaça de narguilé e de cigarro subia pelo ar no salão do Shabab Rafah Sports Club, um dos principais clubes de futebol do território palestino”, relatou o jornal O Globo, à época.
“Do lado de fora, a representação do Brasil na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, sede da Autoridade Nacional Palestina (ANP), ajudou a montar um telão para transmitir o jogo em árabe, cercado de bandeiras do Brasil.”
“Acho que vai ser 1 a 0 para o Brasil”, dizia Ali Wassi, morador de Rafah de 30 anos, que estava no clube torcendo para o Brasil ganhar o jogo e também a Copa.
Tudo isso faz apenas dois anos, mas parece outra vida.
O bairro Brasil em Rafah, onde cerca de 70 palestinos se reuniram naquela segunda-feira para assistir à seleção brasileira, já não existe mais.
Imagens de satélite, enviadas pela Planet Labs a pedido da BBC News Brasil, mostram que o bairro foi praticamente inteiramente reduzido a escombros, após a incursão do exército israelense em Rafah em maio deste ano, como parte da resposta de Israel aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.
Israel justifica a destruição pela necessidade de retomar o controle da fronteira com o Egito e destruir túneis que seriam usados para contrabando de armas e militantes.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), desde o início do conflito, 41,5 mil palestinos já morreram, 96 mil ficaram feridos, 1,9 milhão foram forçadamente deslocados e 495 mil enfrentam níveis catastróficos de insegurança alimentar.
Do lado israelense, são mais de 1,2 mil mortes, incluindo as vítimas dos ataques de 7 de outubro, e cerca de 5,4 mil feridos, conforme dados atualizados até 25 de setembro.
No Líbano, já são pelo menos 1,6 mil vidas perdidas e 6 mil feridos, segundo dados da agência de migração da ONU de 3 de outubro.
“O que é possível ver pelas imagens de satélite é que a maior parte de Gaza se tornou inabitável”, diz Nadia Hardman, pesquisadora dos direitos de refugiados e migrantes da Human Rights Watch (HRW), uma organização não governamental de defesa dos direitos humanos.
Relatório recém-publicado pelo Centro de Satélites das Nações Unidas (Unosat), mostra que 66% de todas as construções em Gaza haviam sido destruídas até setembro deste ano, incluindo mais de 227 mil moradias.
“Há uma destruição tão generalizada que será incrivelmente difícil para as pessoas voltarem aos seus lares”, diz Hardman, que avalia atualmente se a ação de Israel em Gaza se enquadra no crime de guerra de deslocamento forçado.
“Um dos elementos [para a configuração desse crime] é se as pessoas poderão voltar após serem evacuadas, o que parece cada vez mais improvável diante da ausência de infraestruturas civis e do fato de que os meios de sobrevivência foram completamente dizimados”, diz a pesquisadora.
“É chocante ver o nível de destruição e [pensar] quantos anos serão necessários para reconstruir e quantas toneladas de escombros terão de ser retiradas.”
Em Gaza, muitos bairros e campos de refugiados levam o nome de países – como a Vila Suíça, o Campo Canadá e o bairro saudita, por exemplo.
“Há todo tipo de projetos habitacionais, construídos em períodos diversos”, observa Sam Rose, diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês) em Gaza.
“E o que é interessante, mas também trágico, é que muitos desses projetos são um produto da destruição ocorrida durante conflitos.”
Esse é o caso do bairro Brasil — também chamado de Al Brazil ou Campo Brasil em diferentes documentos da ONU e de organizações humanitárias —, cujo nome remonta à Guerra do Sinai, em 1956.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948, após uma determinação da Organização das Nações Unidas pela partilha do antigo mandato mandato britânico da Palestina entre judeus e palestinos.
No dia seguinte, explode uma guerra, com Israel sendo atacada por três frentes diferentes, pelos exércitos de Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita. Neste primeiro conflito, os Estados árabes saem derrotados.
Uma segunda guerra eclode em 1956, quando uma coalizão formada por Israel, Grã-Bretanha e França invade o Egito por conta da nacionalização do Canal de Suez — rota comercial que liga os mares Vermelho e Mediterrâneo — pelo presidente egípcio Gamal Abdel Nasser.
“Então é criada pela ONU a primeira Força de Emergência das Nações Unidas [Unef, na sigla em inglês], enviada para guarnecer a fronteira entre Egito e Israel depois da Guerra do Sinai de 1956, para evitar a eclosão de uma nova guerra”, diz Dennison de Oliveira, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
“É nesse contexto que o Brasil participa dessa força de paz, junto a efetivos do Canadá, Colômbia, Dinamarca, Finlândia, Índia, Indonésia, Noruega, Suécia e Iugoslávia”, afirma o especialista em história militar.
Oliveira observa que, em 1956, o Brasil era presidido por Juscelino Kubitschek, que tinha uma perspectiva desenvolvimentista na política interna e ambições diplomáticas no âmbito internacional.
À época, o Brasil também gozava de prestígio externo, por conta de seu papel de destaque na criação da ONU em 1945 e da atuação das Forças Expedicionárias Brasileiras (FEB) na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial.
“Somando o prestígio internacional do Brasil à época, com a ambição presidencial de ter um papel mais destacado no cenário internacional, surge a ideia de criação do batalhão que passou à história como Batalhão Suez”, diz o pesquisador.

Crédito,Arquivo Nacional
Embora a tropa brasileira seja conhecida como Batalhão Suez, sua zona operacional foi situada no sul da Faixa de Gaza, tendo como missão vigiar e manter a integridade da Linha de Demarcação de Armistício (ADL, na sigla em inglês) e de uma zona neutra entre os territórios do Egito e Israel.
O efetivo brasileiro foi aquartelado na cidade palestina de Rafah, onde estavam localizados o Campo Rafah, da ONU, e o Campo Brasil, do Batalhão Suez.
“O batalhão tinha 180 homens em média, que lá ficavam em regime de rodízio. Então, a cada seis meses, trocava-se metade do efetivo”, diz Oliveira.
Ao longo dos quase onze anos, de 1957 a 1967, que durou o Batalhão Suez, teriam passado pelo batalhão 6.300 brasileiros, que faziam basicamente serviço de guarda e vigilância, impedindo que pessoas não autorizadas dos dois lados cruzassem a fronteira, observa o pesquisador.
“Foi uma operação que deu muito certo, porque durante a mais de uma década que nossos soldados estiveram lá, não eclodiram guerras no Oriente Médio.”
Gerson Oliveira de Almeida, de 79 anos e veterano do Batalhão Suez, onde serviu de agosto de 1964 ao mesmo mês do ano seguinte, lembra com orgulho da atuação brasileira em Gaza.
Durante seu tempo de serviço, ele conta que ficou no comando das comunicações da 9ª Companhia do Batalhão, lotada na fronteira entre Egito e Gaza.

Crédito,Arquivo pessoal/Gerson Oliveira de Almeida
O aposentado lembra vividamente da miséria em que, já naquela época, viviam os palestinos.
“Eles eram muito, muito pobres, e iam para a cerca da 9ª Companhia e do batalhão para arrumar alguma coisa”, lembra Gerson, que foi à missão com 19 anos.
“Pelas regras, nós não podíamos dar comida a eles, então eu e outros colegas íamos para o rancho [refeitório, local de alimentação dos militares] e as sobras nós guardávamos assim num papel e levávamos para a cerca, colocávamos do lado de fora e eles avançavam para comer.”
“Era uma situação horrível. E se não tivesse papel para colocar, se a gente colocasse [a sobra de comida] na própria areia, eles pegavam e comiam. Era chocante, uma miséria muito grande.”
Apesar desse cenário desolador, Gerson conta que chegou a fazer amizade com um árabe chamado Salomão, que ensinou a ele o básico da língua árabe.
“Ele ia na cerca e dizia ‘Cabo Gerson, cabo Gerson, vai aprender arabic hoje?’ e eu dizia ‘Vou sim, Salomão, espera aí que vou pegar meu banquinho para sentar com você na cerca’.”
O “professor” sentava do lado de fora e o brasileiro do lado de dentro da cerca, lembra o boina azul, membro da Associação dos Integrantes do Batalhão Suez do Rio de Janeiro (Abis-RJ).
“Ele me ensinou a pedir comida e também descambava—– desculpe a expressão — para a parte de sacanagem, o que era muito normal e natural. Então a gente perguntava: ‘Como é que eu falo assim com uma mulher?’ e ele dizia em árabe. Então aprendi muita coisa assim, na beira da cerca.”

Crédito,Arquivo Nacional
Os palestinos que conviveram com os soldados brasileiros também guardaram boas lembranças daquela época.
Kamal al Akras, um morador do bairro Brasil que falou ao jornal Folha de S.Paulo em reportagem de 2015, lembrava, rindo, de quando, aos 14 anos, foi com amigos até a cerca do Campo Brasil assistir a uma partida entre soldados brasileiros e indianos — o jogo, tenso e disputado, terminou em pancadaria.
“Todos gostavam dos brasileiros. Eram os únicos que iam a todos os eventos, todas as festas, e não somente às brasileiras.”
O fim da missão brasileira foi marcado pelo início da Guerra dos Seis Dias, quando, em 5 de junho de 1967, forças militares israelenses atacaram as posições brasileiras na ADL.
Na ocasião, foi morto o cabo Carlos Adalberto Ilha, única vítima brasileira por fogo inimigo em mais de dez anos de missão, lembra o professor da UFPR.
As posições brasileiras foram ocupadas pelas tropas israelenses. Alguns dias depois, em 13 de junho, ocorreu a evacuação do contingente brasileiro.
Estava encerrada a participação brasileira na primeira força de paz da ONU.

Crédito,Arquivo Nacional
Akras contou à Folha que, tempos depois de tomar o controle de Gaza na Guerra dos Seis Dias, os israelenses teriam tentado mudar o nome da vizinhança de Al Brazil para Al Nahla.
A expressão em árabe quer dizer “abelha de mel” e homenagearia um judeu que teria morrido no local e teria sido encontrado com tâmaras doces ainda intactas, preservadas em seu bolso, semanas depois.
“Os moradores não permitiram e mantiveram o nome em homenagem aos brasileiros, que eram muito queridos”, disse o palestino ao jornal.
Sam Rose, da UNRWA, conta que, antes da guerra, Rafah era uma cidadezinha de fronteira poeirenta, com cerca de 90% da população formada por refugiados de 1948.
“O bairro Brasil era formado por muitos prédios baixos, de dois ou três andares, onde pessoas muito pobres viviam em condições de superlotação”, diz Rose.
“Não estamos falando de favelas, ou algo do tipo, mas de blocos de concreto cinza, sem qualquer acabamento, e onde quem tinha algum dinheiro construía um quarto extra aqui ou ali.”

Crédito,Folhapress

Crédito,Folhapress
Rose observa que parte dessa má qualidade das construções se devia ao fato de que, por sua proximidade com a fronteira com o Egito, o bairro Brasil já foi muitas vezes destruído em conflitos entre israelense e palestinos. Então os prédios ali eram relativamente recentes.
A última grande destruição aconteceu em 2004, após a chamada Segunda Intifada, levante dos palestinos contra a ocupação israelense ocorrido a partir de 2000.
Naquela ocasião, quase 75% das moradias do bairro foram demolidas por escavadeiras israelenses e estruturas de lazer locais, como um zoológico e um estádio de futebol, foram destruídas.

Crédito,Getty Images
Em maio de 2024, o bairro já reconstruído abrigava milhares de refugiados vindos do centro e norte de Gaza, fugindo dos ataques israelenses em retaliação aos atentados do Hamas.
Com uma população de cerca de 280 mil pessoas antes do início da guerra em outubro, Rafah passou a abrigar cerca de 1,4 milhão nos meses seguintes, segundo as Nações Unidas.
“Rafah havia se tornado então [em maio deste ano] a única área segura, que não havia sido alvo das mesmas operações militares que outras áreas [ao norte e centro de Gaza]”, lembra Nadia Hardman, da Human Rights Watch.
“Então o que tínhamos era a maioria da população apinhada em abrigos não adequados para essa finalidade, numa situação humanitária desastrosa — sabemos que as Forças de Defesa Israelenses [FDI] têm usado a fome como uma arma de guerra“, diz a pesquisadora.
“Então foi assustador quando ficou claro que haveria uma operação militar de grande proporção em Rafah, para supostamente, livrar a área do Hamas.”
Segundo o jornal israelense The Times of Israel, a 162ª Divisão das Forças de Defesa Israelenses primeiro tomou o controle dos arredores orientais da cidade de Rafah e da travessia da fronteira com o Egito no início de maio.
No segundo estágio da operação, cerca de uma semana e meia depois, a divisão tomou o controle do bairro Brasil.
“O que Israel diz é que, quando eles tomaram controle do Corredor Filadélfia [rota de 14 km na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito], eles descobriram diversos túneis de contrabando, alguns tão grandes que seria possível dirigir um carro através deles. Tudo isso está documentado”, diz Rose, da UNRWA.
“Muitos desses túneis são construídos dentro de casas, então Israel argumenta que, para retomar o controle da fronteira e impedir o contrabando de armas e guerrilheiros, é preciso demolir todas as casas nessa região”, completa o diretor.
“Se eles vão mantê-la ou não como uma zona tampão [área neutra que separa forças inimigas] ainda é algo a ser visto, porque esse é um dos pontos sensíveis nas negociações pelo cessar-fogo.”
Com o avanço da guerra no Oriente Médio para o Líbano e a entrada do Irã no conflito, Nadia Hardman, da Human Rights Watch, teme pelos moradores de Gaza deslocados forçadamente, cujo sofrimento agora está mais distante dos olhos do mundo.
“A atenção da mídia segue em frente, mas a gravidade da situação continua a mesma. É preciso lembrar o mundo que as violações [de direitos] continuam, que as pessoas em Gaza ainda não têm nenhum lugar seguro para ir, que as condições de habitabilidade foram destruídas.”

Crédito,EPA-EFE/REX/Shutterstock
Questionado se será possível um dia reconstruir o bairro Brasil, Sam Rose, da UNRWA, lembra que isso já foi feito antes. Mas pondera que o nível de destruição atual é sem precedentes.
“A abordagem que tivemos no passado não vai funcionar. Antes reconstruímos centenas ou alguns milhares de casas. Agora estamos falando de centenas de milhares de casas [em Gaza como um todo]”, destaca Rose.
“Só o processo de remoção de escombros deve levar uma década. E há a questão de quem vai fazer isso, quem vai financiar — porque estamos falando de dezenas de bilhões de dólares — e onde as pessoas vão viver e como vão receber os serviços de que necessitam enquanto Gaza é reconstruída.”
Gerson Oliveira de Almeida, o boina azul quase octogenário, lamenta a destruição do bairro onde um dia serviu em missão de paz.
“Eu penso o seguinte: o que o Hamas fez foi altamente indigesto, jamais deveria ter ocorrido. Mas vejo como bastante desproporcional o que Israel está fazendo ao povo palestino”, diz o militar aposentado.
“Me sinto frustrado de ter ficado lá um ano buscando a paz e agora ver esse morticínio total. Fico pensando nos Ibrahins, Mahmouds, Salomões que eu conheci. Pessoas comuns, segregadas a uma terra seca e infértil, enquanto o judeu do outro lado tinha tudo na terra dele.”
*Com a colaboração de Carlos Serrano e Caroline Souza, da equipe de jornalismo visual da BBC.
bbcnews