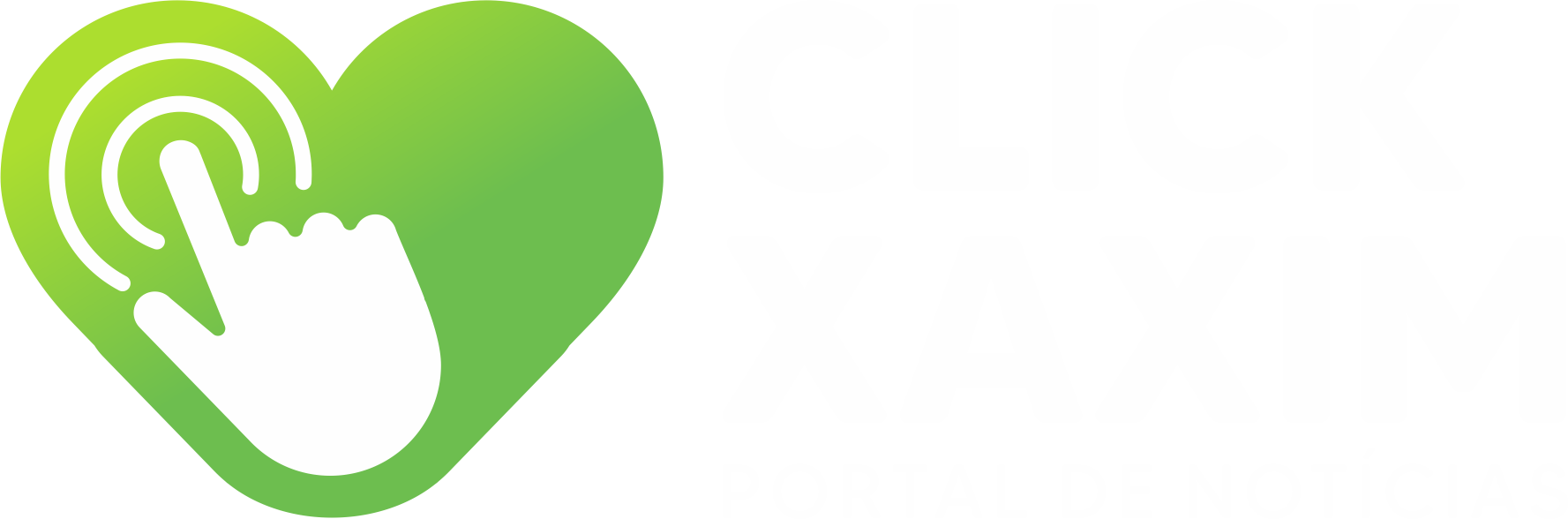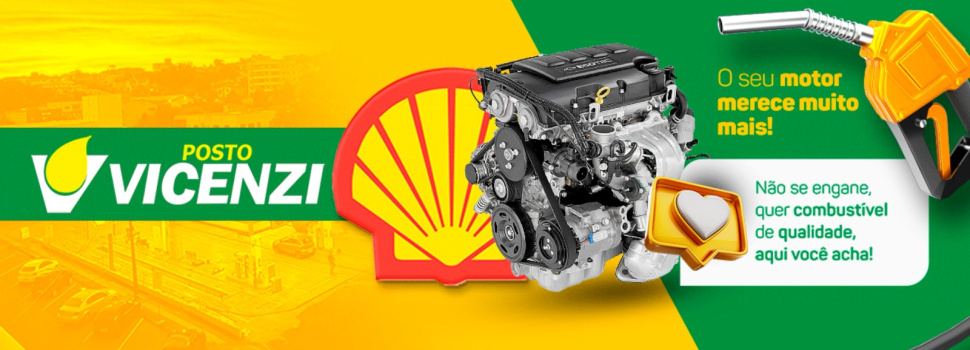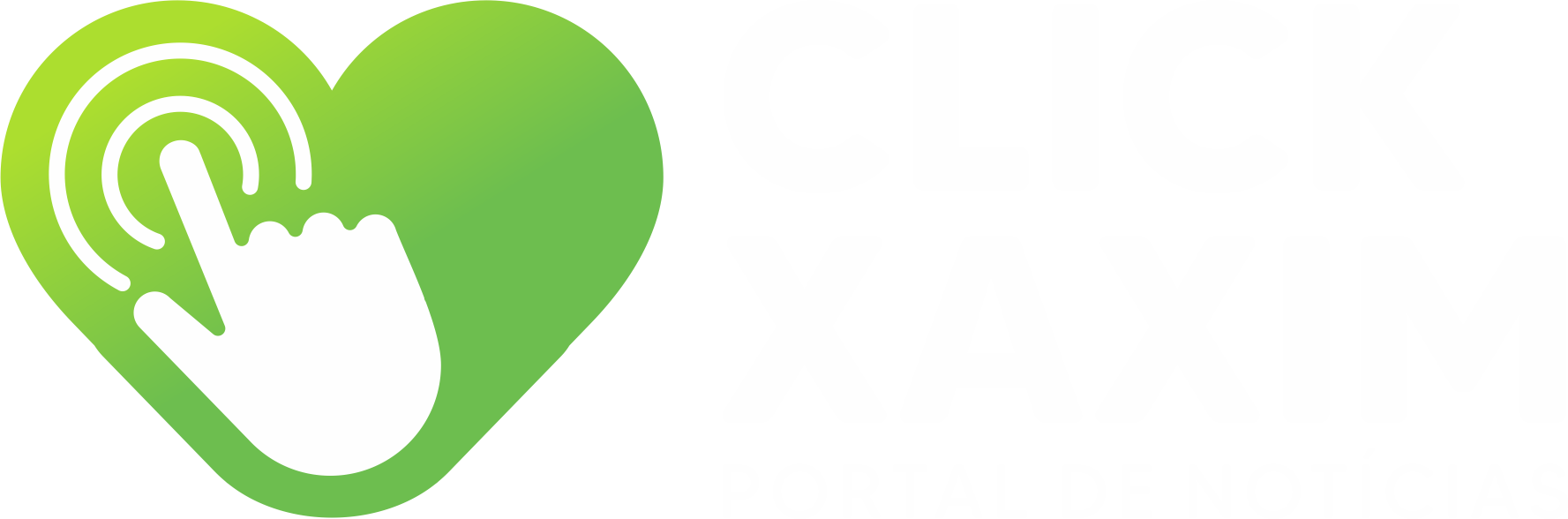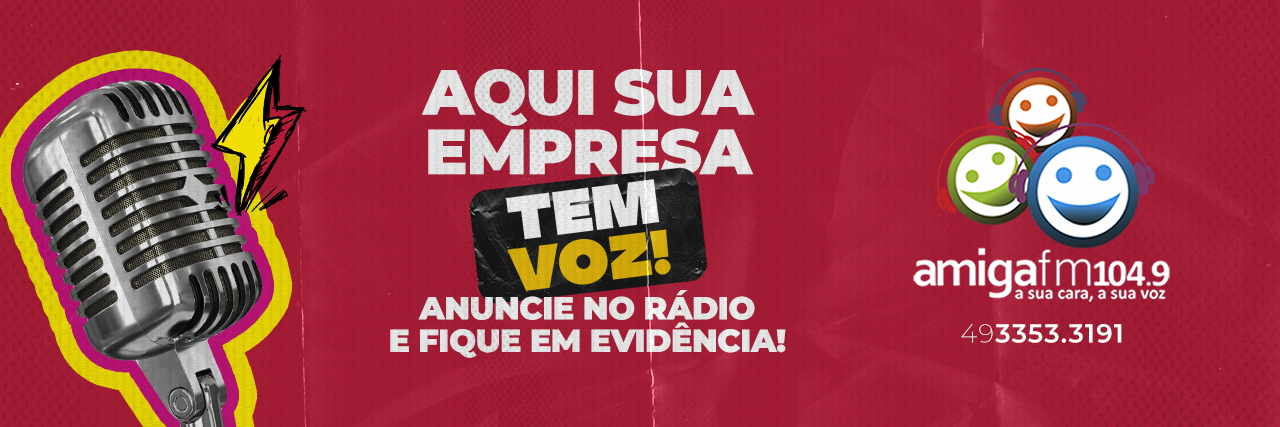A imigração alemã para o Brasil começou sob patrocínio oficial em 1824, com a chegada a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, de 39 colonos provenientes do porto de Hamburgo.
Aquele foi o início a um dos maiores movimentos migratórios para o continente americano. Em cem anos, cerca de 250 mil alemães migraram para o território brasileiro, transformando o Brasil no país com maior número de falantes de alemão fora da Alemanha.
Os migrantes vinham principalmente de áreas de extrema pobreza na Alemanha para zonas rurais no Brasil. O governo brasileiro buscava, entre outros propósitos, ocupar partes remotas do país e tornar o Brasil mais “europeu”.
Em razão de guerras, doenças, fome e empobrecimento decorrente da Revolução Industrial, alemães deixaram a Europa rumo principalmente aos Estados Unidos e, em segundo lugar, ao Brasil.
Alguns deles, decepcionados com as condições que encontraram no Brasil, retornaram à Alemanha. Atualmente a população de descendentes de alemães no Brasil é de cerca de 5 milhões de pessoas.
Nesses dois séculos, a relação entre os dois países passou por vários estágios, variando entre admiração, medo e desconfiança. Em 1859, o governo da Prússia chegou a proibir a imigração de seus cidadãos para o Brasil.
‘Paixão recíproca entre alemães e brasileiros’
Quando Helga Iracema Landgraf Piccolo defendeu sua tese de doutorado sobre a política rio-grandense no Segundo Império, no início dos anos 1970, o Brasil e a Alemanha atravessavam uma fase de paixão recíproca.
No país europeu, o chamado Milagre Alemão simbolizava o renascimento depois da devastação da Segunda Guerra Mundial. Do outro lado do Atlântico, o Milagre Brasileiro ecoava o otimismo resultante do crescimento econômico recorde e da relativa popularidade da ditadura militar.
Um símbolo desse idílio ocuparia o Palácio do Planalto a partir de 1974. Filho de um pastor luterano da cidade de Hesse, o general-presidente Ernesto Geisel (1907-1996) era conhecido na caserna pela alcunha de Alemão.
Poucos anos antes, ao pesquisar atas da Assembleia Provincial do Rio Grande do Sul de meados do século XIX para sua tese, a filha de alemães Helga tinha encontrado um cenário distinto.
“Havia discursos de parlamentares que denunciavam um suposto ‘perigo alemão’. Isso era muito comum no debate público no século XIX”, relata René Gertz, professor aposentado do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ex-aluno de Helga.
No Império, o “perigo alemão” era sobretudo interno. A partir de 1824, milhares de alemães compunham a mais numerosa comunidade migrante no Brasil.
No Rio Grande do Sul, os alemães foram instalados pelo Império em regiões de vales e rios, desprovidas de estradas e inservíveis para a pecuária então dominante.
‘Núcleos isolados’
Nessas áreas de mata fechada, representavam perigo, quando muito, para os indígenas e a fauna silvestre.
Na Assembleia, onde só conquistariam assento no último quarto do século, eram acusados de não ser nem pretender tornar-se verdadeiros brasileiros: adotavam língua estrangeira, não casavam seus filhos entre a população local e mantinham as próprias igrejas e associações.
“Os primeiros núcleos de migrantes ficavam muito isolados. Eram territórios de ocupação recente, muitas vezes ainda parcialmente habitados por indígenas. As pessoas tinham de trabalhar a terra para garantir a sobrevivência. Grupos assim tendem a se coesionar e a usar a língua materna como instrumento de integração”, afirma o historiador Pedro Scheer, coordenador do Arquivo Histórico Municipal Lino Grings, de Nova Petrópolis, na região da Serra gaúcha.
Primeira doutora em História do Rio Grande do Sul, Helga vira o temido “perigo alemão” mudar de endereço.
Seus pais chegaram ao Brasil em 1923, procedentes da Turíngia, no centro da Alemanha, onde tinham testemunhado o período turbulento da República de Weimar.
Em território brasileiro, Richard e Frida Landgraf encontraram ânimos exaltados contra os alemães, acusados ao mesmo tempo de incivilizados, despóticos e agressivos.
O Brasil havia declarado guerra à Alemanha em 1917, sem maiores consequências, participara da Conferência de Versalhes do lado vencedor e reclamava reparações por perdas sofridas durante o conflito.
Os Landgraf não podiam ser acusados de estar a serviço do Kaiser Guilherme II. Richard e Frida tinham sido partidários da comunista Liga Spartakus, de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Desiludidos, abandonaram a atividade política e emigraram.
Apesar dos percalços, os pais de Helga melhoraram de vida e jamais pensaram, segundo a filha, em voltar para a Alemanha.
Richard aprendeu português em um curso na Associação Cristã de Moços e tornou-se aficionado da literatura brasileira.
“Meu nome sempre foi motivo de gozação na universidade: Helga Iracema”, relatava a historiadora, lembrando a admiração do pai pelos romances de José de Alencar.
Antes da Independência, com apoio de dom João VI e dom Pedro I, houve tentativas de trazer alemães para o Brasil. Custeadas por capital privado alemão, as colônias no sul da Bahia não vingaram.

Crédito,Prefeitura de Nova Petrópolis, divulgação
O caminho até o Brasil
No Rio Grande do Sul, a experiência contou com recursos da Corte, que forneceu transporte, terra e financiamento aos assentados na Feitoria do Linho Cânhamo (hoje São Leopoldo), antiga possessão imperial, às margens do Rio dos Sinos. A data da chegada, 25 de julho de 1824, é até hoje comemorada anualmente como aniversário da migração.
Os primeiros migrantes eram sobretudo agricultores. Entre as primeiras levas, porém, havia mercenários e ex-soldados. A intenção de dom Pedro I, casado com dona Leopoldina, filha do imperador austríaco Franciso I, era criar uma malha de povoações de camponeses-guerreiros para servir de anteparo a um presumido avanço espanhol sobre o Rio Grande do Sul.
Vistas de fora como homogêneas, as comunidades eram cindidas por antigas diferenças. A maioria era de luteranos, mas havia um contingente não desprezível de católicos. Falavam uma profusão de dialetos, embora o mais comum fosse o da região de Hunsrück, na Renânia-Palatinado.
Não viram o alemão padrão estabelecer-se, em meados do século XIX, a partir de um dialeto falado na região de Hannover. Foram responsáveis, no entanto, por fazer do Brasil o país com maior número de falantes de alemão fora da Alemanha.
“Quando minha geração foi para a escola, nos anos 1970, eu e 80% de meus colegas falávamos Hunsrückisch. Aprendemos português na sala de aula”, relata Célia Weber Heylman, professora no Colégio Cenecista Frederico Michaelsen, em Nova Petrópolis.
Sutis diferenças separam o Hunsrückisch do alemão padrão. A principal é a supressão de desinências. A expressão cotidiana em alemão gramatical “Einen Schönen Tag noch” (“Tenha um bom dia”), por exemplo, assume no dialeto a forma “Ein Schön Tag noch”. Mutter (mãe) é Mutta. Aos poucos, palavras oriundas do português foram incorporadas.
Pesquisadora de Hunsrückisch, Célia viajou há alguns anos para a região dos antepassados em companhia da mãe e do marido, que falam o dialeto e não o alemão padrão. “Os dois conseguiram se comunicar perfeitamente bem”, garante.
Em comum, os pioneiros de 1824 tinham especialmente a determinação de escapar da pobreza e da fome. Haviam caminhado a pé de suas aldeias até o Rio Reno, em barcos até Hamburgo e em grandes navios até o Rio de Janeiro e Porto Alegre.
Na região da Serra gaúcha, o município de Nova Petrópolis, com 21,5 mil habitantes, é um exemplo da diversidade da colônia. Em seu interior, coexistem grupos com origem no Hunsrück, mas também em regiões que não fazem parte da Alemanha atual, como Pomerânia (hoje na Polônia), Boêmia (hoje Tchéquia) e outras regiões.
“Nova Petrópolis é de colonização mais germânica do que alemã”, resume Pedro Scheer, diretor do Arquivo Histórico Municipal Lino Grings.

Crédito,Lucas Kloss, Assembleia Legislativa do RS/divulgação
A língua e a cultura foram decisivos para a sobrevivência das comunidades. Já em meados do século XIX, as chamadas colônias alemãs estavam repletas de escolas, jornais e associações culturais e beneficentes.
Depois do esmagamento da Primavera dos Povos, quando uma onda de revoluções liberais varreu a Europa, uma nova fornada de migrantes somou-se às antigas. Mais urbana, era constituída de indivíduos instruídos, muitos deles com profissões técnicas ou liberais.
Exemplar típico desse novo migrante foi Carl von Koseritz (1830-1890), liberal de origem nobre que chegou ao Brasil em 1851 como marinheiro em um navio que transportava mercenários recrutados para a guerra contra Oribe e Rosas.
No Rio Grande do Sul, fez de tudo um pouco: foi professor, tropeiro, cozinheiro, contador, tipógrafo, jornalista e médico leigo.
Deputado provincial por quatro mandatos a partir de 1883, tornou-se campeão da causa da integração dos alemães ao país de adoção.
“Ele tinha essa vontade muito grande de fazer parte do Brasil enquanto brasileiro”, afirmou Carlos Eduardo Piassini, co-organizador do livro Carlos von Koseritz: trajetória e discursos na Assembleia Provincial, lançado no dia 16 de julho pela Assembleia Legislativa e pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
A agitação de Koseritz era um contraponto a um dos episódios mais marcantes da história da região de colonização alemã: a revolta dos Mucker. Esse episódio, ocorrido entre 1873 e 1874 no interior de São Leopoldo, envolveu a mobilização de um número estimado entre 700 e mil colonos em torno de uma seita reunida pelo casal João e Jacobina Maurer.
Em Hunsrükisch, Mucker significa “santarrão”, “falso beato”. Acusado de assassinatos e crimes contra a propriedade, o grupo foi massacrados pelo exército imperial. Para Koseritz, não passavam de uma “fraude”.
Com exceção do escândalo dos Mucker, a comunidade manteve-se alinhada ao poder estadual em Porto Alegre.
No período republicano, as regiões de migração, e em particular a alemã, experimentaram grande crescimento no Rio Grande do Sul, com aumento de população, criação de indústrias, abertura de estradas e implantação de serviços urbanos.
Empresas fundadas ou comandadas por alemães no final do século XIX e início do XX tornaram-se a espinha dorsal da economia rio-grandense: Oderich e Ritter (alimentos), Bopp (cerveja), Berta e Wallig (metalurgia), Neugebauer (chocolates), Renner (têxtil), Gerdau (pregos), Ely (comércio de tecidos) e outras.
Parte dessas companhias segue no ramo até os dias atuais, enquanto outras deram origem a novos conglomerados.
Em Porto Alegre, migrantes e descendentes envolveram-se na indústria e no comércio, na educação e no jornalismo, no lazer e no esporte, na rede hospitalar e na música.
O arquiteto Theo Wiederspahn (1878-1952) marcou a paisagem urbana da capital com projetos de prédios em estilo eclético como o Hotel Majestic (hoje Casa de Cultura Mario Quintana), a Cervejaria Bopp (hoje Shopping Total), a Delegacia Fiscal da Receita Federal, os Correios e Telégrafos e o Edifício Ely (hoje Tumelero).
Nem mesmo a 2ª Guerra Mundial, que ressuscitou o “perigo alemão”, foi capaz de abalar o protagonismo alemão na economia gaúcha.
A ditadura do Estado Novo, encabeçada pelo gaúcho Getúlio Vargas, proibiu que se falasse alemão, italiano e japonês. Para os Landgraf, que utilizavam o idioma no ambiente doméstico em Porto Alegre, o período foi de angústia.
“Meu pai vivia com a mala pronta para ser preso”, relatou Helga Piccolo em entrevista de 2012.

Crédito,Prefeitura de Nova Petrópolis, divulgação
No pós-guerra, em vez de retrair-se, a comunidade tornou-se mais vibrante. Iniciativas de socorro à Alemanha devastada pela guerra foram realizadas em todo o Estado. Renovou-se o interesse pela língua e pela cultura alemãs.
“Alemão é teimoso”, brinca Pedro Scheer. “Depois da guerra, há uma reconstrução de sua cultura.”
Quando Érico Verissimo decidiu fazer de um dos personagens mais emblemáticos da saga O tempo e o Vento, o médico Carl Winter, um migrante imbuído do espírito romântico alemão, esbarrou no próprio desconhecimento do país. Como conselheiro, recorreu ao advogado, jornalista e tradutor Herbert Caro.
Berlinense e formado em direito pela Universidade de Heidelberg, Caro, que era judeu, fora proibido pelo regime hitlerista de exercer a profissão.
Foi Caro o responsável por fornecer a Erico uma lista de cidadezinhas medievais do sul da Alemanha da qual o escritor sacou a terra natal do dr. Winter. A localidade escolhida foi Eberbach, em Baden-Würtemberg. Anos depois, a cidade homenagearia Erico por tê-la incluído em uma das mais importantes obras da literatura brasileira.
Iniciadas em janeiro, as comemorações do bicentenário da migração devem estender-se até o final do ano no Rio Grande do Sul, com a presença de representantes do governo, de empresas e de instituições acadêmicas alemãs.
Eventos estão previstos também na Alemanha. Em agosto, uma comitiva de Nova Petrópolis viajará a Emmelshausen. Em uma das rótulas da cidade da Renânia-Palatinado, haverá a inauguração de um monumento que representa as botas usadas pelos primeiros migrantes na caminhada em direção ao Novo Mundo.
“O monumento significa a caminhada, o ciclo de ida e vinda de migrantes entre nossos países”, explica Martim Wissmann, vice-prefeito e coordenador da comissão municipal do bicentenário.

Crédito,Lucas Kloss, Assembleia Legislativa do RS/divulgação
Visto em perspectiva histórica, o bicentenário da migração alemã coincide com um momento em que Berlim e Brasília estão divididos em relação ao principal acontecimento da política europeia: a guerra na Ucrânia.
Enquanto a Alemanha apoia o lado ucraniano, o Brasil tem emitido sinais contraditórios sobre o conflito.
“O Brasil não se posiciona claramente ainda. É pragmático, lida com todos os lados. A Alemanha pressiona, sim, o Brasil para que adote uma posição pró-ocidental”, avalia Bruna Rohr Reisdoerfer, pesquisadora no Estado-Maior do Exército e analista na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha.
Um dos impactos dessa indefinição, afirma a especialista, poderia ocorrer na negociação do acordo comercial União Europeia-Mercosul, no qual a Alemanha está interessada, mas que enfrenta resistências da França e da Espanha. Outro seria em caso de um giro do Brasil em direção à China.